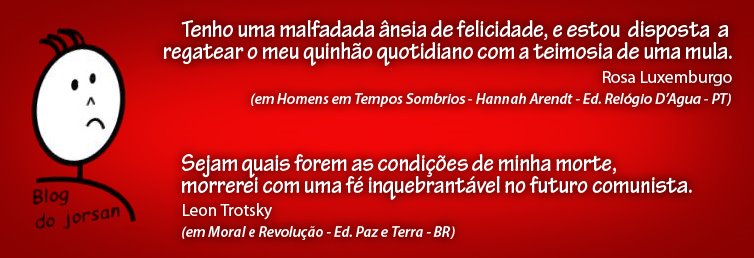Leituras para distrair
Conversando
sobre o caso do jacaré que mastigou um garotinho em Orlando – USA, no dia 13 de
junho, último, um dos meus filhos comentou que estranhava o anúncio de baixa
quantidade de ocorrências deste tipo lá, em Orlando.
Segundo ele,
aquela região tem jacaré pra cacete, a ponto de existirem trabalhadores com a
missão específica de raspar do chão restos de jacarés que são esmagados pelos
automóveis nas estradas. E no intervalo de tempo em que ele morou por lá, o
condomínio em que morava recebia visitas regulares de funcionários da
prefeitura com instrumentos para realizar vistorias e recolher jacarés que
estivessem em locais inadequados tais como quintais, pequenos lagos caseiros ou
piscinas.
Mas, conversa
vai e vem, e o fato da tragédia ter acontecido em um parque de diversões
(Disney), lembrei e contei para eles (os "meninos" com os quais eu
conversava) sobre um caso das ariranhas em São Paulo, nos anos setenta, quando
eu morava lá.
Foi no
Zoológico (acho), em setembro de 1977, quando uma criança entrou ou caiu no
poço das ariranhas sendo atacada por elas. Para quem não faz ideia, ariranha é
um bicho feroz e conhecido como “onça-dágua”.
Outro
visitante que estava com mulher e filhos, e nada tinha a ver com a criança que
caiu no fosso, mergulhou para salvá-la. A criança foi salva, mas o infeliz
morreu deixando a família que assistiu à tragédia. O herói era sargento do
exercito brasileiro.
O então colunista
da Folha de São Paulo, Lourenço Diaferia (1933 – 2008), fez uma crônica
emocionada relacionando a atitude do sargento. Em seu artigo (link abaixo) ele
citava o sargento como verdadeiro herói popular, comparando-o aos mitos
estáticos como o representado pela estátua do Duque de Caxias, um monumento
muito conhecido na cidade e que era (ou ainda é) uma referência próxima à
antiga rodoviária. ”Prefiro este sargento ao Duque de Caxias”, escreveu
Diaferia.
O artigo
emputeceu a ditadura. Os chefões de então, Geisel, Hugo Abreu e Silvio Frota
tomaram o artigo como uma ofensa a um símbolo nacional. O Diaferia entrou em
cana, não sei se ganhou umas porradas, mas segundo a própria Folha de São
Paulo, que havia apoiado o golpe militar há mais de 10 anos, o jornal foi
ameaçado de ser fechado por ameaça direta ao seu proprietário.
Resgatei a
crônica do Diaferia para mostrar para aos meninos. Mas, reli, naturalmente, e
constato que ela continua emocionante e atual, assim como há quarenta anos. Compartilho registros que coletei e
guardei.
Matéria da Folha relata a censura ao texto e a ameaça de fechamento do jornal
####
Sumário do caso e reprodução do texto do Lourenço DiaferiaMatéria da Folha relata a censura ao texto e a ameaça de fechamento do jornal
 |
Personagens - A ariranha está sem farda. Outros são: Geisel, Hugo Abreu e Sylvio Frota
|